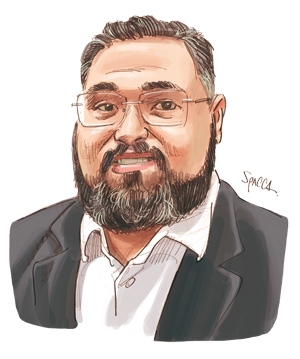
No fim de março, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, convocou jornalistas para um anúncio importante: com base num estudo da USP que listava os principais divulgadores de fake news, ordenaria a instalação de “procedimento” para que a Polícia Federal descobrisse “que tipo de material essas organizações têm à sua disposição”.
Meses depois, em junho, o ministro Sérgio Banhos, do TSE, atendeu a pedido do Rede e mandou o Facebook retirar do ar posts que relacionavam a ex-senadora Marina Silva, candidata a presidente pela legenda, à operação “lava jato”. De acordo com a decisão, a postagem partiu de um perfil dedicado a divulgar fake news para prejudicar a candidata.
Dois bons exemplos de como é pantanoso o terreno das fake news. Especialmente quando o sistema de Justiça se encontra com o noticiário.
Quando falou no estudo da USP, Fux disse que ele fora produzido pelo Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da universidade. Menos de uma semana depois do anúncio, os responsáveis pelo “estudo” publicaram artigo na Folha de S.Paulo explicando que não era nada daquilo: eles coordenam um grupo sobre debate político na internet e, um ano antes, um dos membros do grupo divulgara uma lista de sites que não dão as fontes de suas informações. Seria, na visão da pessoa que fez a lista, um indicativo de fake news. Mas não era um ranking, muito menos um levantamento formal.
A decisão de Sérgio Banhos mandou o Facebook apagar os posts sobre Marina Silva porque eles não passavam de fake news. Mas quem clicasse nos links divulgados na rede social veria que eles remetiam a notícia da Folha. Não eram falsas, só não foram confirmadas: o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, dissera em delação premiada que sua empresa financiou a campanha da ex-senadora à Presidência da República em 2014, mas ela não gostava de falar no assunto.
São episódios que mostram por que o Judiciário deve agir com parcimônia nesse campo. Para o advogado Diogo Rais, professor de Direito Eleitoral do Mackenzie e da FGV-SP e pesquisador de Direito e tecnologia, o primeiro passo deve ser de definições. A começar pela tradução. Fake news não são notícias falsas, diz ele. São notícias fraudulentas, sabidamente mentirosas, mas produzidas com a intenção de provocar algum dano.
Em entrevista à ConJur, ele explica que “são necessários três elementos fundamentais para identificar fake news como objeto do Direito: falsidade, dolo e dano”. A discussão sobre a veracidade de uma informação, especialmente se publicada por um veículo de comunicação, não cabe ao Judiciário. “A mentira, nesse contexto, parece ser mais objeto da Ética que do Direito.”
Diogo Rais é doutor em Direito Constitucional pela PUC-SP, coordenador do Observatório da Lei Eleitoral da FGV-SP e fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep).
Leia a entrevista:
ConJur — O que é fake news?
Diogo Rais — É difícil definir, porque a tradução literal, “notícia falsa”, não dá conta, por ser um paradoxo em si mesmo: se algo é notícia, não pode ser falso; e se é falso, não pode ser notícia. Organizações internacionais, universidades e cientistas de diversas áreas vêm tratando o tema sob um ângulo ainda mais amplo, o da ideia de “desinformação”. Considerando o caso brasileiro e, especificamente, o âmbito jurídico, talvez uma boa tradução não seja “notícia falsa”, mas “notícia fraudulenta”. A mentira, nesse contexto, parece ser mais objeto da Ética que do Direito, sendo a fraude o adjetivo mais próximo da face jurídica da desinformação.
Diogo Rais — É difícil definir, porque a tradução literal, “notícia falsa”, não dá conta, por ser um paradoxo em si mesmo: se algo é notícia, não pode ser falso; e se é falso, não pode ser notícia. Organizações internacionais, universidades e cientistas de diversas áreas vêm tratando o tema sob um ângulo ainda mais amplo, o da ideia de “desinformação”. Considerando o caso brasileiro e, especificamente, o âmbito jurídico, talvez uma boa tradução não seja “notícia falsa”, mas “notícia fraudulenta”. A mentira, nesse contexto, parece ser mais objeto da Ética que do Direito, sendo a fraude o adjetivo mais próximo da face jurídica da desinformação.
ConJur — Então como definir o que é fake news, ou notícia fraudulenta?
Diogo Rais — São necessários três elementos fundamentais para identificar fake news como objeto do Direito: falsidade, dolo e dano. Ou seja, no contexto jurídico, fake news é o conteúdo comprovada e propositadamente falso, mas com aparência de verdadeiro, capaz de provocar algum dano, efetivo ou em potencial.
Diogo Rais — São necessários três elementos fundamentais para identificar fake news como objeto do Direito: falsidade, dolo e dano. Ou seja, no contexto jurídico, fake news é o conteúdo comprovada e propositadamente falso, mas com aparência de verdadeiro, capaz de provocar algum dano, efetivo ou em potencial.
ConJur — O que determina a diferença entre uma informação errada e fake news?
Diogo Rais — Partindo do conceito que mencionei, não existiria fake newspor simples erro. Não existiria um conceito jurídico de “fake news culposa”, já que para sua caracterização são indispensáveis a existência de dano e dolo. Nesse contexto, o erro não seria alcançado e, portanto, não poderia ser considerado fake news, mas um erro jornalístico, que sempre existirá e deve ser reconhecido o mais breve possível e, assim que identificado, corrigido, buscando atingir a mesma amplitude da notícia divulgada com erro.
Diogo Rais — Partindo do conceito que mencionei, não existiria fake newspor simples erro. Não existiria um conceito jurídico de “fake news culposa”, já que para sua caracterização são indispensáveis a existência de dano e dolo. Nesse contexto, o erro não seria alcançado e, portanto, não poderia ser considerado fake news, mas um erro jornalístico, que sempre existirá e deve ser reconhecido o mais breve possível e, assim que identificado, corrigido, buscando atingir a mesma amplitude da notícia divulgada com erro.
ConJur — E qual é a definição de “desinformação”?
Diogo Rais — Venho trabalhando conforme os estudos da Comissão Europeia, que adotou o conceito formulado pelo High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation [Grupo de Especialistas de Alto Nível em ‘Fake News’ e Desinformação Online] sobre desinformação on-line. Num relatório divulgado em março, o grupo definiu desinformação como “informação comprovadamente falsa ou enganadora que é criada, apresentada e divulgada para obter vantagens econômicas ou para enganar deliberadamente o público, e que é suscetível de causar um prejuízo público”.
Diogo Rais — Venho trabalhando conforme os estudos da Comissão Europeia, que adotou o conceito formulado pelo High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation [Grupo de Especialistas de Alto Nível em ‘Fake News’ e Desinformação Online] sobre desinformação on-line. Num relatório divulgado em março, o grupo definiu desinformação como “informação comprovadamente falsa ou enganadora que é criada, apresentada e divulgada para obter vantagens econômicas ou para enganar deliberadamente o público, e que é suscetível de causar um prejuízo público”.
ConJur — Uma lei específica poderia resolver o problema?
Diogo Rais — Existe um espaço interpretativo enorme diante de questões como a da desinformação. Por isso, não é possível fazer uma lei que seja eficiente e, ao mesmo tempo, protetora da liberdade de expressão. Essa dificuldade remete para dois caminhos: ou não se interfere, ou se interfere com base no caso concreto. E é a segunda opção que escolhemos no Direito brasileiro. Por conta disso, de algum modo, toda essa gama interpretativa é destinada à autoridade judicial, que, diante do caso concreto, considerando suas provas, deve decidir.
Diogo Rais — Existe um espaço interpretativo enorme diante de questões como a da desinformação. Por isso, não é possível fazer uma lei que seja eficiente e, ao mesmo tempo, protetora da liberdade de expressão. Essa dificuldade remete para dois caminhos: ou não se interfere, ou se interfere com base no caso concreto. E é a segunda opção que escolhemos no Direito brasileiro. Por conta disso, de algum modo, toda essa gama interpretativa é destinada à autoridade judicial, que, diante do caso concreto, considerando suas provas, deve decidir.
ConJur — O Judiciário é o melhor lugar para esse debate?
Diogo Rais — Destinar ao Judiciário a tarefa de regular a verdade não parece boa ideia. Os melhores lugares para se debater a matéria são a academia, a imprensa e as iniciativas da sociedade. Cabe ao Judiciário a tarefa de decidir diante do conflito, do dano e do dolo.
Diogo Rais — Destinar ao Judiciário a tarefa de regular a verdade não parece boa ideia. Os melhores lugares para se debater a matéria são a academia, a imprensa e as iniciativas da sociedade. Cabe ao Judiciário a tarefa de decidir diante do conflito, do dano e do dolo.
ConJur — Fake news pode ser um fator de medição de qualidade da imprensa?
Diogo Rais — Esse é um dos inúmeros efeitos colaterais de se tratar fake news como notícias falsas e não fraudulentas. Seria aberta uma margem para discutir o erro e a qualidade jornalística. Não faz sentido exigir da imprensa o dever de certeza. Deve-se exigir o dever de apuração e de cuidado. Excessos e desvios são tratados em casos concretos e o Direito já dispõe de mecanismos suficientes para cobrança e atribuição de responsabilidade. A boa reportagem ou o bom jornalismo devem se diferenciar da reportagem ruim, mas essa é uma decisão editorial e dos leitores, não da Justiça. Não tem sentido usar o Direito para exigir uma espécie de padrão de qualidade jornalístico.
Diogo Rais — Esse é um dos inúmeros efeitos colaterais de se tratar fake news como notícias falsas e não fraudulentas. Seria aberta uma margem para discutir o erro e a qualidade jornalística. Não faz sentido exigir da imprensa o dever de certeza. Deve-se exigir o dever de apuração e de cuidado. Excessos e desvios são tratados em casos concretos e o Direito já dispõe de mecanismos suficientes para cobrança e atribuição de responsabilidade. A boa reportagem ou o bom jornalismo devem se diferenciar da reportagem ruim, mas essa é uma decisão editorial e dos leitores, não da Justiça. Não tem sentido usar o Direito para exigir uma espécie de padrão de qualidade jornalístico.
Podemos ter advogados e juízes não tão bons ou médicos não tão bons. Mas criar um artifício jurídico que proíba a atuação jornalística não tão boa seria absurdo. Quem diria o que é tão bom assim? O que faríamos com os “não tão bons”? A imprensa não deve publicar sem responsabilidade, mas daí exigir que tudo publicado seja expressão absoluta da certeza inequívoca seria equivalente a autorizar a impossibilidade de atuação do jornalismo investigativo, do humor, das apurações no curso da reportagem. Talvez nem o horóscopo pudesse estar nos jornais.
ConJur — Recentemente o TSE determinou que informações sobre a candidata a presidente Marina Silva fossem retiradas do Facebook, aplicando um conceito de fake news. A repercussão na Justiça Eleitoral foi imediata e juízes e tribunais assumiram posturas parecidas. O que acha desse tipo de decisão?
Diogo Rais — A legislação há anos prevê o direito de resposta diante de ofensa ou “notícias” sabidamente inverídicas. Mas, ali, limita a atuação da Justiça Eleitoral aos candidatos e ao período eleitoral. Apesar disso, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que trata da propaganda eleitoral para as eleições de 2018 (Resolução 23.551) ampliou a questão e, além do direito de resposta, instituiu amparo jurídico para a retirada de notícia sabidamente inverídica em sentido amplo, mesmo que tenha sido publicada por eleitor (artigo 22, parágrafo primeiro cumulado com o artigo 33). É claro que a discussão do que é "sabidamente inverídica" destina mais uma vez para as provas de um caso concreto, mas não deve ser encarada como um espaço criativo do juiz, mas como um dever de vinculação ao caso concreto e seu material probatório. A Justiça Eleitoral não deve ser árbitra da verdade e buscar uma limpeza da mentira ou da internet, não deve ser órgão censor ou administrativo de atuação. Não se espera do Judiciário que faça política pública, e sim uma atuação mínima e subsidiária diante do conflito instalado, atuando somente nos casos em que há dano (efetivo ou em potencial) e o dolo.
Diogo Rais — A legislação há anos prevê o direito de resposta diante de ofensa ou “notícias” sabidamente inverídicas. Mas, ali, limita a atuação da Justiça Eleitoral aos candidatos e ao período eleitoral. Apesar disso, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que trata da propaganda eleitoral para as eleições de 2018 (Resolução 23.551) ampliou a questão e, além do direito de resposta, instituiu amparo jurídico para a retirada de notícia sabidamente inverídica em sentido amplo, mesmo que tenha sido publicada por eleitor (artigo 22, parágrafo primeiro cumulado com o artigo 33). É claro que a discussão do que é "sabidamente inverídica" destina mais uma vez para as provas de um caso concreto, mas não deve ser encarada como um espaço criativo do juiz, mas como um dever de vinculação ao caso concreto e seu material probatório. A Justiça Eleitoral não deve ser árbitra da verdade e buscar uma limpeza da mentira ou da internet, não deve ser órgão censor ou administrativo de atuação. Não se espera do Judiciário que faça política pública, e sim uma atuação mínima e subsidiária diante do conflito instalado, atuando somente nos casos em que há dano (efetivo ou em potencial) e o dolo.
ConJur — Qual o limite entre essa preocupação da Justiça Eleitoral com as ditas fake news e a censura judicial?
Diogo Rais — Toda decisão dessa espécie tem que ser revestida de ampla responsabilidade sem se desviar do caso concreto e de suas provas. Não se pode descolar da ideia de que, em cada comando de retirada de conteúdo, há uma grande chance de ferir a liberdade de expressão. Então, na dúvida, não se retira; na dúvida, não se interfere; na dúvida, não se fere a liberdade de expressão. A Justiça Eleitoral deve, diante da remoção de conteúdo, ter uma atuação mínima. A Resolução 23.551, no artigo 33, diz expressamente que sua atuação diante de conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. É sempre um desafio falar sobre limites fora do caso concreto, em abstrato, mas existem alguns cuidados que podem afastar a atuação jurisdicional da censura judicial.
Diogo Rais — Toda decisão dessa espécie tem que ser revestida de ampla responsabilidade sem se desviar do caso concreto e de suas provas. Não se pode descolar da ideia de que, em cada comando de retirada de conteúdo, há uma grande chance de ferir a liberdade de expressão. Então, na dúvida, não se retira; na dúvida, não se interfere; na dúvida, não se fere a liberdade de expressão. A Justiça Eleitoral deve, diante da remoção de conteúdo, ter uma atuação mínima. A Resolução 23.551, no artigo 33, diz expressamente que sua atuação diante de conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. É sempre um desafio falar sobre limites fora do caso concreto, em abstrato, mas existem alguns cuidados que podem afastar a atuação jurisdicional da censura judicial.
ConJur — Uma modalidade comum de fraude é a divulgação de informações antigas e desatualizadas como se fossem atuais. Tem como o Judiciário coibir esse tipo de coisa?
Diogo Rais — É muito sensível esse tipo de desinformação. A informação é verdadeira, mas sua postagem pode ser enganosa pelo contexto. Apesar disso, se for a divulgação pura e simples de um fato passado, não seria desinformação, seria memória. O que me parece vedado é criar intencionalmente um cenário enganoso se utilizando de material verdadeiro do passado. O material pode não ser o problema, mas se há uma maquiagem enganando o leitor, e esse conteúdo causa dano efetivo ou em potencial, aí sim poderíamos ter uma fake news na acepção jurídica.
Diogo Rais — É muito sensível esse tipo de desinformação. A informação é verdadeira, mas sua postagem pode ser enganosa pelo contexto. Apesar disso, se for a divulgação pura e simples de um fato passado, não seria desinformação, seria memória. O que me parece vedado é criar intencionalmente um cenário enganoso se utilizando de material verdadeiro do passado. O material pode não ser o problema, mas se há uma maquiagem enganando o leitor, e esse conteúdo causa dano efetivo ou em potencial, aí sim poderíamos ter uma fake news na acepção jurídica.
ConJur — A responsabilidade entre quem compartilha e quem produz fake news deve ser a mesma?
Diogo Rais — É preciso entender que fake news não é forma, e sim conteúdo. Isso quer dizer que para descobrir se algo é fake news será necessário analisar o conteúdo e, de acordo com ele, verificar se houve danos diversos e previsão legal diversa. Então, para os casos em que a ação combatida pela lei seja a divulgação, o compartilhamento se insere na modalidade, já que o seu responsável tem a conduta tipificada, de divulgar.
Diogo Rais — É preciso entender que fake news não é forma, e sim conteúdo. Isso quer dizer que para descobrir se algo é fake news será necessário analisar o conteúdo e, de acordo com ele, verificar se houve danos diversos e previsão legal diversa. Então, para os casos em que a ação combatida pela lei seja a divulgação, o compartilhamento se insere na modalidade, já que o seu responsável tem a conduta tipificada, de divulgar.
O compartilhamento acaba dando mais visibilidade ao conteúdo, mas a criação de conteúdo enganoso deve ser a parte central de atuação. Há muitos incentivos econômicos para criação de conteúdo, há a chamada “indústria do clique”, que monetiza a viralização de conteúdo e outros meios que motivam a criação de fake news.
ConJur — Recentemente quase todos os grandes veículos de comunicação se juntaram para criar uma iniciativa de checagem de informação e denúncia de fake news financiada pelo Google e pelo Facebook. Isso não pode ser mais negativo que positivo para a circulação de informações?
Diogo Rais — São bem-vindos o jornalismo investigativo e a checagem de informações, mas é preciso perceber que há uma gama enorme de situações em que a checagem, além de não responder efetivamente à pergunta sobre a falsidade, pode confundir ainda mais os leitores. Uma coisa é checar se, na gestão daquele determinado candidato, foram realmente construídas cinco escolas. Outra é checar se ele foi o melhor prefeito. Melhor em quê? Como medir? Ou ainda uma checagem sobre um pensamento: como entrar na cabeça de alguém e saber o que pensa?
Diogo Rais — São bem-vindos o jornalismo investigativo e a checagem de informações, mas é preciso perceber que há uma gama enorme de situações em que a checagem, além de não responder efetivamente à pergunta sobre a falsidade, pode confundir ainda mais os leitores. Uma coisa é checar se, na gestão daquele determinado candidato, foram realmente construídas cinco escolas. Outra é checar se ele foi o melhor prefeito. Melhor em quê? Como medir? Ou ainda uma checagem sobre um pensamento: como entrar na cabeça de alguém e saber o que pensa?
Um trabalho sério de checagem ajuda a enfrentar o desafio da desinformação, mas um trabalho sem rigor metodológico ou sem responsabilidade, agrava-se, ainda mais, a desinformação.
ConJur — Conhece boas iniciativas de combate a fake news – ou a notícias fraudulentas?
Diogo Rais — Existem muitas ações no campo da prevenção, como educação jornalística digital, as agências de “fact-checking”, os portais e iniciativas da sociedade civil organizada como o do movimento #NãoValeTudo, que reúne incríveis iniciativas em prol do uso ético da tecnologia nas eleições. No ambiente acadêmico também é possível encontrar muitas iniciativas interessantes, como o excelente projeto da UFMG coordenado pelo professor Fabricio Benevenuto.
Diogo Rais — Existem muitas ações no campo da prevenção, como educação jornalística digital, as agências de “fact-checking”, os portais e iniciativas da sociedade civil organizada como o do movimento #NãoValeTudo, que reúne incríveis iniciativas em prol do uso ético da tecnologia nas eleições. No ambiente acadêmico também é possível encontrar muitas iniciativas interessantes, como o excelente projeto da UFMG coordenado pelo professor Fabricio Benevenuto.
Há um ano venho coordenando, no Mackenzie, junto com o coordenador de Jornalismo, o portal fake news (que em breve também poderá ser conferido o conteúdo em www.eleitoralize.com.br). Além disso, também treinamos os graduandos em Direito para que sejam checadores de conteúdo. A ideia é levar substrato técnico sobre o tema para que também se transformem em difusores dessa cultura de responsabilidade do usuário na internet. Pela pluralidade do tema, pelas faces de prevenção, multidisciplinaridade e de educação digital, entendo que os remédios mais eficazes para a matéria estão no campo da educação digital e do empoderamento do usuário e não no Judiciário. O usuário precisa entender que, na internet, é ele o curador e o responsável pelo conteúdo.
Fonte: www.conjur.com.br

