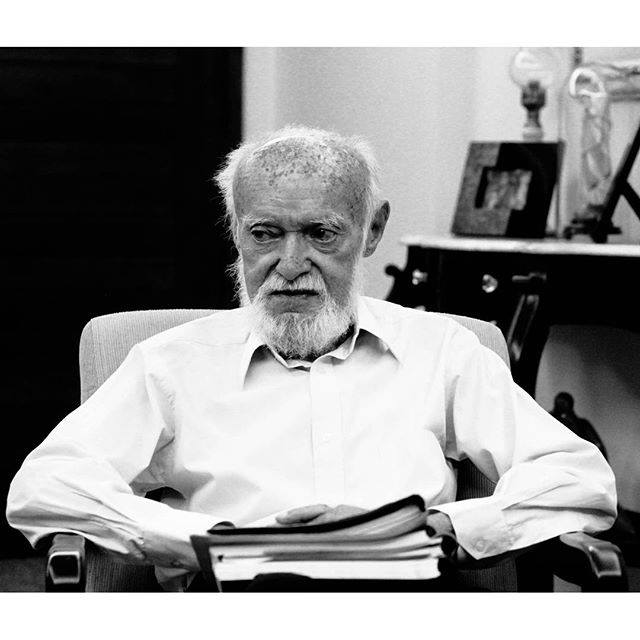SEIS LIÇÕES DE VIDA QUE EXUPÉRY ME ENSINOU
Por Rogério Rocha
Antoine Jean-Baptiste Marie Roger Foscolombe, Conde de Saint-Exupéry, nome dado a Antoine de Saint-Exupéry, escritor, ilustrador e piloto de aviões. Simplesmente o autor francês mais lido e traduzido até hoje, tendo obras publicadas em 26 (vinte e seis) idiomas e em, aproximadamente, 260 (duzentas e sessenta) línguas e dialetos. Fato que por si só já bastaria para colocá-lo num lugar de honra na literatura universal.
Parte considerável desse fenômeno tem ligação com duas de suas maiores contribuições à imaginação humana: “O Pequeno Príncipe” (1943), que vendeu 80 (oitenta) milhões de exemplares no mundo, e “A Cidadela” (1948), obra póstuma que é a síntese de suas concepções filosóficas. Dois livros que reputo fundamentais ao Ocidente e cujas qualidades e características ajudaram a moldar pessoas, transformar vidas e influenciar centenas de escritores durante muitas gerações.
Mas o que me trouxe a este texto não foram as obras, mas o homem, a pessoa humana do escritor Exupéry, chamado de Zé Perri pelos moradores de Campeche, comunidade de pescadores na ilha de Santa Catarina, onde, entre 1929 a 1931, por várias vezes esteve, quando trabalhava no serviço aéreo postal francês pilotando os aviões da empresa Latécoère, numa rota monumental que ia de Toulouse a Buenos Aires. Convivência essa documentada em seu livro “Voo Noturno” (1931), que reúne também passagens de sua experiência e amizades com a gente simples daquele lugar.
Movido pela magnitude dessa biografia, e mais que isso, pela força viva da figura simples e sensível de Exupéry, apresento aqui seis lições de vida que ele me ensinou.
A primeira veio da sua infância e está ligada ao irmão François. Criados por muitas mulheres (a mãe, uma tia idosa, amas, governantas e três irmãs), ele e seu irmão (dois anos mais jovem) nutriam uma grande rivalidade. Um dia, contudo, aos 15 (quinze) anos, François adoece. Doença que se arrastaria por um mês, até que em dada noite a enfermeira bate à porta de seu quarto e avisa a Antoine que seu irmão queria vê-lo. Chegando ao quarto do doente, e à beira da cama, ele segura em suas mãos e diz: “Pega um papel e toma nota! Vou morrer! Vou morrer e quero que tomes nota de tudo o que vou te deixar.” Incrédulo, Antoine então diz: “Não, esqueça! Cura-te!” Ainda assim, com a insistência do irmão, toma nota e arrola uma lista de bens. Na mesmo noite, François morreria.
O impacto da perda prematura do irmão pesou forte em sua alma. A partir desse dia, Exupéry aprenderia a jamais ser um materialista. A vida (ou a morte) lhe ensinara a compreender a força dos mais belos e profundos laços humanos.
A segunda lição extraio da sua passagem pela Latécoère, empresa que levava o nome do homem que imaginou o que poderia fazer com aviões (invento que, à época, ainda engatinhava). Com ele é criada a primeira companhia de correio postal aéreo da França. Uma ideia a que fora desaconselhado e que se imaginava irrealizável. Talvez por isso, seu criador então afirmava: “Só nos falta uma coisa: realizá-la.” E com ele, lá estava Antoine, um destemido piloto, apaixonado pelo voo, a realizar viagens transoceânicas, num avião com poucas aparelhagens, sem itens de segurança e durante longos trechos à noite, ensinando àqueles que ouvem os que dizem que suas ideias não podem ser realizadas o seguinte: mãos à obra, ajam!
A terceira lição de vida que aprendi com ele vem do deserto. Sim, o deserto em Saint-Exupéry tem uma presença decisiva. É forte, brilha, fala, envolve, aquece, acolhe, silencia e amedronta. Está no encontro do pequeno príncipe com o aviador solitário (inspirado no próprio autor, por certo). Está nos contos, histórias, imagens e memórias poético-filosóficas da sua “A cidadela”, apresentada em linguagem alegórica, quase bíblica. Afinal, para unir os homens e carregar mensagens, em suas cartas e postagens, sobrevoava o Saara, correndo risco de ser abatido pelos egípcios. Os mesmos egípcios com quem passara muitas noites a conversar, construindo laços de amizade com pessoas que antes eram meras desconhecidas. O deserto, portanto, até poderia matá-lo, mas serviu-lhe de inspiração, evocando, em toda sua aridez, o oposto, a humanidade de quem pretendia apenas tentar compreender o diferente de um outro modo.
A partir deste aprendizado, ensinou-me ainda mais. Uma quarta lição, conexa à anaterior: a tolerância. Tolerar o diferente é um exemplo de imensa humanidade. Justamente um dos traços que melhor caracterizavam a personalidade do fascinante escritor francês, que ainda hoje muito nos diz. Aqui prefiro que ele mesmo fale. Ouçam! “Se és diferente de mim, irmão, em vez de me prejudicares, tu me enriqueces. É essa diferença que faz a minha riqueza. E é a minha riqueza que faz a tua diferença.”
Chego agora ao quinto ensinamento, certo de que sua grande dor era escrever. Escrever não era um bálsamo. Era tormenta. Antoine reescrevia quinze, vinte, trinta vezes seus textos. Era um artífice obstinado, demiurgo onipotente em suas lindas histórias, pensamentos e palavras. Buscava, talvez por isso, uma linguagem universal. Escrevia para as gerações futuras. Até porque, como ele mesmo dizia, “o importante é o invisível”. O invisível do porvir, dos sentimentos ainda não revelados, dos projetos humanos, de tudo que ainda não é. O invisível do alcançar, do desbravar. Voava à noite quando não existiam instrumentos para isso. Voava às cegas. Olhava para onde queria ir e os meios apareciam. Apareciam os caminhos no ar. Era a vontade, só a vontade o que contava. Cruzava desertos, terras e oceanos. E conseguia. Ele conseguia. Afinal, o que é preciso dizer aos homens para que sejam homens? É preciso dizer-lhes sobre a essência das coisas. Sobre a natureza das coisas, sobre o inefável. Porque o invisível aos olhos só é visto pelo coração. E o que é do íntimo do coração, só se vê ao fechar os olhos.
Mas abro os meus novamente, respiro fundo e chego ao fim desse trajeto de aprendizados, dessas lições, desse imenso voo noturno sobre o meu próprio Saara, carregado de pesadas esperanças e guardando em meu coração (único lugar onde isso tudo poderia caber) a sexta lição que o mestre Saint-Exupéry me ensinou, e que aqui sintetizo numa frase: “Não esperes nada do homem se ele só trabalha para sua vida e não por sua eternidade.”
Obrigado Antoine, mestre inspirador! Professor de superação de si mesmo.