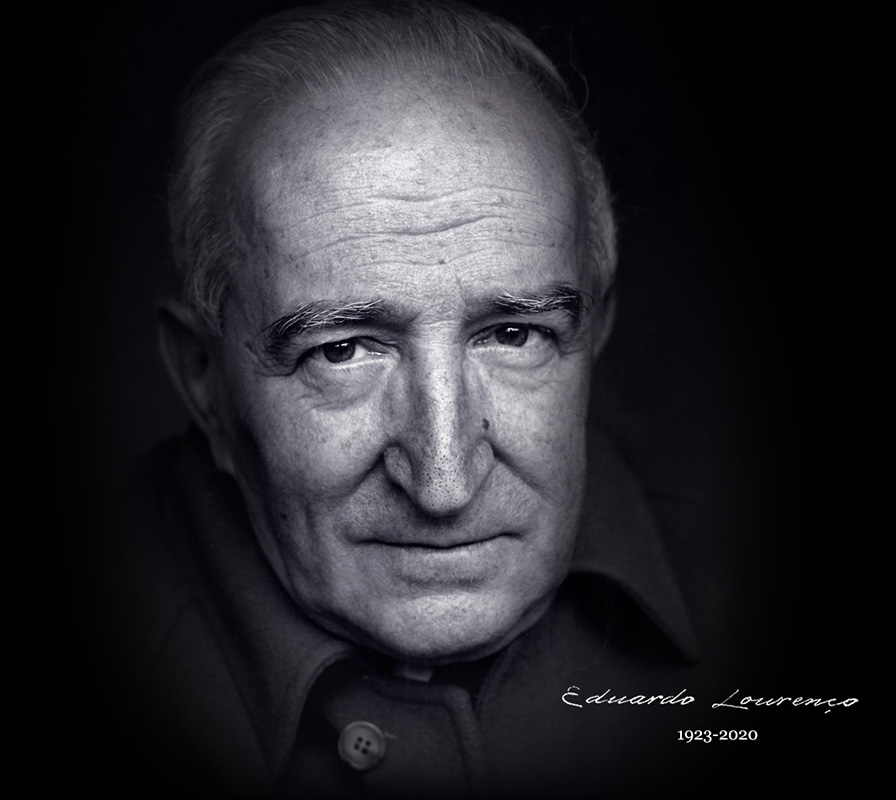terça-feira, 25 de fevereiro de 2020
segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020
O NEGRO OLHAR SOBRE A SOCIEDADE MARANHENSE
O negro olhar sobre a sociedade maranhense
Rafaela Pereira*
Inspirado pela perspectiva de mudanças políticas no
país, especificamente no Maranhão, Vencidos e degenerados constrói outra
leitura para a presença entre nós de africanos escravizados e seus
descendentes, com ênfase no contexto da abolição e em suas
consequências. Utilizando-se de uma linguagem voltada para a fala
popular daquela época e com personagens representativos, compõe um
painel de rara intensidade sociológica sobre a São Luís do final do
século XIX. A narrativa se inicia na manhã de 13 de Maio de 1888, na
casa de José Maria Maranhense, espécie de quartel general abolicionista,
onde várias pessoas aguardavam a chegada do telegrama com a notícia da
aprovação da Lei Áurea. João Olivier, personagem central da trama, é
um respeitado jornalista que tem como fonte de sustento as crônicas que
escreve para um órgão local. Mestiço, posiciona-se a favor dos cativos e
é através de seu olhar que as críticas vão sendo tecidas por toda obra
em relação à imprensa e à sociedade maranhense. Nesta passagem
percebemos a visão do personagem sobre a abolição:
A liberdade dos negros
vem contribuir para o desenvolvimento desta terra infeliz, e dar-lhes
novas forças, novos elementos, novos aspectos... Esta fidalguia barata
virá caindo aos poucos e o princípio de confraternidade virá acabar com
supostas e falsas superioridades do ser, que tem sido um dos mais vis
preconceitos da nossa existência política. (MORAES, 2000, p. 67).
Em sua fala, a queda da “fidalguia” acontecerá com
abolição e com ela se extinguirão os preconceitos oriundos das classes
superiores que, para se manterem no poder, fazem uso extremo da
hipocrisia. Seu otimismo em relação à libertação dos negros o faz
acreditar que o fim do regime lhes daria condições de progresso e a
queda daqueles que tinham sede de poder. É também na figura de Olivier
que se encontra um “dos maiores elementos contra a escravidão”. É
através de sua fala que percebemos as manifestações indignadas sobre os
que realmente precisam trabalhar e os que trabalham por vaidade; e sobre
a ausência de reconhecimento da sociedade em relação às pessoas
esclarecidas. Pai adotivo de Cláudio, tem a intenção de fazer do menino
“um homem de luta” pela própria raça, e não um bacharel ou comendador,
mas o filho adotivo deixa dúvidas se estava realmente seguindo as
intenções propostas por Olivier.
Cláudio era filho de Andreza e Daniel Aranha,
ex-escravos. Perseguido pelos professores e pelos colegas por causa de
sua cor, o menino tem a proteção do pai adotivo, que cuida de sua
educação com zelo. Olivier era descendente de família tradicional, o que
explica seu prestígio nos círculos intelectuais. Porém, bastou
tornar suas ideias conhecidas para que fosse perseguido a ponto de ter
que sair do Maranhão. Tem como mestre Carlos Bento, jornalista e
professor, também afastado da imprensa por razões políticas, o que o
obriga a viver de aulas particulares. Fora também professor de Olivier e
escreve um panfleto no qual faz uma síntese política e social. Com a
morte de Olivier, Claudio termina os estudos no Liceu e começa a dar
aulas particulares para ajudar na renda familiar. Segue o exemplo do pai
adotivo e se torna jornalista, chegando a fundar o periódico O Campeão,
que logo encontrou um rival, O Triunfo, criado pela elite local como
resposta. Não demorou muito para que Cláudio também fosse atacado. Como a
renda do magistério não era suficiente para as despesas, recebia um
auxílio de José Machado. Este, ao saber que Cláudio era amante de
Armênia, começa a tratá-lo com indiferença até que deixa de lhe fornecer
a preciosa ajuda mensal. O jovem passa a ser novamente perseguido e
após ser salvo de uma emboscada por Aranha, seu pai biológico, sai do
Maranhão e vai para o Amazonas, onde passa a ocupar elevada posição como
jornalista. A sua volta acontece no dia 15 de novembro, no momento em
que estão comemorando a Proclamação da República.
Os personagens são construídos através de dualidades:
livres e cativos; pobres e ricos; pessoas de famílias tradicionais e
pessoas de famílias sem importância social; homens ilustres e homens
ignorantes; mulheres de família e mulheres festeiras; entre outros. Os
cativos, ao invés de apáticos e submissos, são retratados como homens
escravizados que reagem a seu modo às atrocidades praticadas pelas mãos
brancas. E são eles que têm amplo desenvolvimento nas ações do romance.
São exemplos disso a cena em que D. Amandra, senhora acostumada a
aplicar cruéis castigos, leva uma bofetada de sua ex-escrava; das
cozinheiras que abandonaram os patrões antes de lhes servirem o jantar; a
cena em que os escravos quebram móveis e louças numa expansão de raiva e
ódio. Pela figura cômica de Zé Catraia, escravo que é libertado no dia
na abolição, o autor ironiza a possibilidade se ser livre mesmo sendo
cativo. Catraia é visto por muitos como um bêbado, sem valor, mas tudo
vê, tudo ouve e tudo sabe. Era homem de confiança de seu senhor, que
sabia de sua inteligência e temia que os seus segredos de contrabando
fossem revelados. É através deste personagem que vamos tecendo a imagem
de Paletó Queimado, alcunha de José Machado, quando Zé Catraia conta a
Cláudio a forma como o português se transformou em homem poderoso.
Ex-quitandeiro, torna-se um capitalista por meios duvidosos e figura
como representação da corrupção na sociedade. Inescrupuloso e
ganancioso, Paletó Queimado representa o arrivismo tão comum naquele
momento histórico e, motivado por segundas intenções, chega a oferecer
ajuda a Olivier.
Já Carlos Bento – o “intelectual falido” – é afastado
da imprensa devido à sua postura ideológica. Por sua fala percebemos a
desvalorização do professorado e das pessoas sábias, o parecer sobre a
sociedade e a educação, e sua crítica sobre a decadência da lavoura
quando descreve a imagem do feitor e analisa o atraso econômico do
Maranhão. Em um diálogo entre ele e João Olivier, este manifesta a
sua desilusão quanto a Proclamação da República:
Eu esperava que, depois
do 13 de Maio, por que trabalhei tanto; depois do 15 de Novembro, com
que me alegrei bastante; esperava que houvesse uma renovação social.
Errônea ou acertadamente eu cuidava que a pública administração com
luzes mais fortes e puras, tomasse outro caminho que não esse que hoje
nos infelicita. (MORAES, 2000, p. 77).
Poucos anos depois da Proclamação da República,
Olivier percebe que os negros não melhoraram de condição e continuaram
marginalizados socialmente. Para Carlos Bento seria necessário que os
ex-escravos e seus filhos fossem alfabetizados, o que lhes permitiria
conhecer os seus direitos políticos e saber que mudanças efetivas
demoram anos, talvez séculos. Pela fala dos personagens, o romance traça
um painel de como ficaram os negros após a abolição, principalmente
para aqueles que acreditaram numa possível ascensão econômica e social.
Renovação que aconteceu, mas não da forma nem na velocidade como Olivier
julgava.
Com refinada ironia o autor apresenta o perfil da
sociedade maranhense dos anos iniciais da República fazendo uso de
registros próximos do jornalístico. A relação entre o campo literário e o
político permite ao autor fazer o retrato de uma cidade onde os
letrados, principalmente os que eram negros, não tinham importância
devido à sua condição. Para alguns críticos, Vencidos e degenerados se
assemelha ao O Mulato, de Aluísio Azevedo, mas é preciso ressaltar as
diferenças presentes em ambas as obras, a começar pela forma como se
posicionam frente às desigualdades raciais. Pode-se dizer também que tal
comparação ocorre devido ao fato de Moraes, em sua obra, abordar uma
realidade social, descrever os seus personagens de forma minuciosa,
tanto física quanto psicologicamente, discutindo questões que certamente
eram polêmicas para a época.
Afinal, quem seriam os vencidos e os degenerados do
Maranhão? A respeito do negro na literatura brasileira, sabemos que sua
representação, via de regra, o reduz a ser permanentemente subalterno.
Todavia, Nascimento Moraes soube muito bem como romper com esta prática
secular ao construir uma obra típica de quem pensava à frente de seu
tempo. Suas indagações permanecem vivas se inquietam a todos os que
procuram as razões e os sentidos das desigualdades contemporâneas.
Referência
MORAES, Nascimento. Vencidos e degenerados. 4. ed. São Luís: Centro Cultural Nascimento Moraes, 2000.
* Rafaela Pereira é graduanda da Faculdade de Letras da UFMG.
Postado por
Rogério Rocha
às
15:34
0
comentários


Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
abolicionismo,
crítica social,
José Nascimento Moraes,
literatura,
romance,
Vencidos e degenerados
domingo, 23 de fevereiro de 2020
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020
A CHAMA PLURAL (por Eduardo Lourenço)
'Não se pode dizer de língua alguma que ela é uma invenção do povo que a fala. O contrário seria mais exacto. É ela que nos inventa. A língua portuguesa é menos a língua que os portugueses falam, que a voz que fala os portugueses. Enquanto realidade presente ela é ao mesmo tempo histórica, contingente, herdada, em permanente transformação e trans-histórica, praticamente intemporal. Se a escutássemos bem ouviríamos nela os rumores originais da longínqua fonte sânscrita, os mais próximos da Grécia e os familiares de Roma. Juntemos-lhe algumas vozes bárbaras das muitas que assolaram a antiga Lusitânia romanizada, uns pós de arábica língua, que espanta não tenham sido mais densos, e teremos o que chamámos, com apaixonada expressão, o “tesouro do Luso”.
Na nossa Idade Média o estatuto da língua era, como o das outras falas cristãs, um “falar” sem transcendência particular. Com o Renascimento, abertura sobre o universal segundo o modelo greco-latino, paradoxalmente, os “falares” europeus tornam-se “língua”, e a língua, signo privilegiado de identidade. Nascem os discursos hagiográficos da língua nacional, da bela língua italiana para Bembo, da altiva fala castelhana para Nebrija, da polida língua francesa para Du Bellay, da nossa nobre e suave língua portuguesa para Fernão de Oliveira, Barros, António Ferreira que a converte em objecto de culto e de orgulho. Diz-me que língua falas, dir-te-ei o estatuto que tens. Nenhum destes endeusamentos ou apologias da dignidade das línguas nacionais é inocente. Fazem parte do processo histórico em que culmina o sentimento nacional.
Descobre-se que a língua não é um instrumento neutro, um contingente meio de comunicação entre os homens, mas a expressão da sua diferença. Mais do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem “pátria”.
Ainda vem longe o tempo em que para cada uma das línguas dominantes da cultura europeia se torne também claro que uma língua não é um dom do céu, destinado à vida eterna, mas um tesouro que deve ser defendido da usura do tempo e das pretensões das outras a ocupar os espaços sem defesa.
A língua é uma manifestação da vida e como ela em perpétua metamorfose. Não há expressão mais melancólica que a tão comum e tão pouco meditada de “língua morta”, nem maravilha maior que a da sua ocasional ressurreição. Como o universo, uma língua viva deve estar em perpétua expansão, ao menos no seu espaço interior, sob pena de se tornar ainda em vida “língua morta”. Essa vitalidade não releva apenas da mera ordem voluntarista ou do ritualismo conservador de academias ou profissionais das nobres ciências da gramática, ou da filologia. É, sobretudo, obra dos que a trabalham ou a sonham como exploradores de um continente desconhecido: romancistas, dramaturgos, poetas, sobretudo, que não apenas os que assim se chamam mas todos os que na quotidiana vida inventam sem cessar as expressões de que precisam para não se perder tempo que passa, do mundo que se renova e transfigura.
É de supor que os homens se tenham inventado como seres falantes por um acto mágico, por um “fiat” ainda hoje misterioso que cada palavra recomeça como se o fogo de hoje se ligasse ao fogo original por uma cadeia de chamas que se ateassem umas às outras. Essa magia original é ao mesmo tempo um desafio e um exorcismo. O destino de cada cultura está intimamente ligado a esses dois papéis que toda a língua encarna. As culturas que o esquecem são as que têm já, dentro de si, as primícias do seu esgotamento. Por graças da História, a língua portuguesa encontrou-se, em dado momento, em condições de elevar esse desafio, esse exorcismo conaturais a toda a fala, a exercício, quase se podia dizer, a missão vital, amalgamando como poucas o destino da sua cultura ao destino da sua língua. Essa aventura podia ter sido, como outras europeias, apenas um exemplo mais da violência colonizadora clássica. Foi também isso, mas foi algo mais e mais importante.
A celebrada alma portuguesa pelo mundo repartida, de camoniana evocação, foi, sobretudo, língua deixada pelo Mundo. Por benfazejo acaso, os portugueses, mesmo na sua hora imperial, eram demasiado fracos para “impor”, em sentido próprio, a sua língua. Que ela seja hoje a fala de um país-continente como o Brasil ou língua oficial de futuras grandes nações como Angola e Moçambique, que em insólitas paragens onde comerciantes e missionários da grande época puseram os pés, de Goa a Malaca ou a Timor, que a língua portuguesa tenha deixado ecos da sua existência, foi mais benevolência dos deuses e obra do tempo que resultado de concertada política cultural. Sob esta forma, um tal projecto seria mesmo anacrónico. Nenhum autor português, nem estrangeiro, escreveu acerca da nossa acção uma obra como “a conquista espiritual do México”, pois não tivemos nenhum México para conquistar e lusitanizar.
O derramamento, a expansão, a crioulização da nossa língua foram como a das nossas “conquistas”, obra intermitente de obreiros de acaso e ganância (da terra e do céu) mais do que premeditada “lusitanização” como nós imaginamos – porventura enganados – que terá sido a romanização do mundo antigo ou a francisação e anglicisação dos impérios francês e britânico.
Quiseram também as circunstâncias – na sua origem pouco recomendáveis – que a nossa língua europeia, em contacto com a africana escrava, se adoçasse, mais do que já é na sua versão caseira, para tomar esse ritmo aberto, sensual, indolente, do português do Brasil ou o tom nostálgico da de Cabo Verde.
A miragem imperial dissolveu-se há muito. Da nossa presença no mundo só a língua do velho recanto galaico-português ficou como elo essencial entre nós, como povo e como cultura, e as novas nações que do Brasil a Moçambique se falam e mutuamente se compreendem entre as demais... Uma língua não tem outro sujeito que aqueles que a falam, nela se falando. Ninguém é seu “proprietário”, pois ela não é objecto, mas cada falante é seu guardião, podia dizer-se a sua vestal, tão frágil coisa é, na perspectiva do tempo, a misteriosa chama de uma língua.
Mas como duvidar que a longa cadeia dos mais exemplares e ardentes dos seus guardiães, aqueles que tornaram sensível o que nela há de imponderável, de Fernão Lopes a Gil Vicente, de Camões a Vieira, de Castro Alves a Pessoa, de Machado de Assis a Guimarães Rosa, ou de Baltazar Lopes a José Craveirinha, se apague ou se estiole? Houve épocas de depressiva configuração em que não era possível pensar no futuro da nossa plural e una fala portuguesa, sem alguma melancolia.
Hoje, não temos motivos para imaginar que, em prazo humanamente concebível, o seu destino seja o dos famosos versos da Tabacaria de que o tempo apagará o traço e a memória. A pluralizada língua portuguesa tem o seu lugar entre as mais faladas no Mundo. Isso não basta para que retiremos dessa constatação empírica um contentamento, no fundo, sem substância. Se contentamento é permitido, só pode ser o que resulta de imaginar que esse amplo manto de uma língua comum, referente de culturas afins ou diversas, é, apesar ou por causa da sua variedade, aquele espaço ideal onde todos quantos os acasos da História aproximou, se comunicam e se reconhecem na sua particularidade partilhada. Não seria pequeno milagre num Mundo que sonha com a unidade sem alcançar outra coisa que o seu doloroso simulacro.'
Na nossa Idade Média o estatuto da língua era, como o das outras falas cristãs, um “falar” sem transcendência particular. Com o Renascimento, abertura sobre o universal segundo o modelo greco-latino, paradoxalmente, os “falares” europeus tornam-se “língua”, e a língua, signo privilegiado de identidade. Nascem os discursos hagiográficos da língua nacional, da bela língua italiana para Bembo, da altiva fala castelhana para Nebrija, da polida língua francesa para Du Bellay, da nossa nobre e suave língua portuguesa para Fernão de Oliveira, Barros, António Ferreira que a converte em objecto de culto e de orgulho. Diz-me que língua falas, dir-te-ei o estatuto que tens. Nenhum destes endeusamentos ou apologias da dignidade das línguas nacionais é inocente. Fazem parte do processo histórico em que culmina o sentimento nacional.
Descobre-se que a língua não é um instrumento neutro, um contingente meio de comunicação entre os homens, mas a expressão da sua diferença. Mais do que um património, a língua é uma realidade onde o sentimento e a consciência nacional se fazem “pátria”.
Ainda vem longe o tempo em que para cada uma das línguas dominantes da cultura europeia se torne também claro que uma língua não é um dom do céu, destinado à vida eterna, mas um tesouro que deve ser defendido da usura do tempo e das pretensões das outras a ocupar os espaços sem defesa.
A língua é uma manifestação da vida e como ela em perpétua metamorfose. Não há expressão mais melancólica que a tão comum e tão pouco meditada de “língua morta”, nem maravilha maior que a da sua ocasional ressurreição. Como o universo, uma língua viva deve estar em perpétua expansão, ao menos no seu espaço interior, sob pena de se tornar ainda em vida “língua morta”. Essa vitalidade não releva apenas da mera ordem voluntarista ou do ritualismo conservador de academias ou profissionais das nobres ciências da gramática, ou da filologia. É, sobretudo, obra dos que a trabalham ou a sonham como exploradores de um continente desconhecido: romancistas, dramaturgos, poetas, sobretudo, que não apenas os que assim se chamam mas todos os que na quotidiana vida inventam sem cessar as expressões de que precisam para não se perder tempo que passa, do mundo que se renova e transfigura.
É de supor que os homens se tenham inventado como seres falantes por um acto mágico, por um “fiat” ainda hoje misterioso que cada palavra recomeça como se o fogo de hoje se ligasse ao fogo original por uma cadeia de chamas que se ateassem umas às outras. Essa magia original é ao mesmo tempo um desafio e um exorcismo. O destino de cada cultura está intimamente ligado a esses dois papéis que toda a língua encarna. As culturas que o esquecem são as que têm já, dentro de si, as primícias do seu esgotamento. Por graças da História, a língua portuguesa encontrou-se, em dado momento, em condições de elevar esse desafio, esse exorcismo conaturais a toda a fala, a exercício, quase se podia dizer, a missão vital, amalgamando como poucas o destino da sua cultura ao destino da sua língua. Essa aventura podia ter sido, como outras europeias, apenas um exemplo mais da violência colonizadora clássica. Foi também isso, mas foi algo mais e mais importante.
A celebrada alma portuguesa pelo mundo repartida, de camoniana evocação, foi, sobretudo, língua deixada pelo Mundo. Por benfazejo acaso, os portugueses, mesmo na sua hora imperial, eram demasiado fracos para “impor”, em sentido próprio, a sua língua. Que ela seja hoje a fala de um país-continente como o Brasil ou língua oficial de futuras grandes nações como Angola e Moçambique, que em insólitas paragens onde comerciantes e missionários da grande época puseram os pés, de Goa a Malaca ou a Timor, que a língua portuguesa tenha deixado ecos da sua existência, foi mais benevolência dos deuses e obra do tempo que resultado de concertada política cultural. Sob esta forma, um tal projecto seria mesmo anacrónico. Nenhum autor português, nem estrangeiro, escreveu acerca da nossa acção uma obra como “a conquista espiritual do México”, pois não tivemos nenhum México para conquistar e lusitanizar.
O derramamento, a expansão, a crioulização da nossa língua foram como a das nossas “conquistas”, obra intermitente de obreiros de acaso e ganância (da terra e do céu) mais do que premeditada “lusitanização” como nós imaginamos – porventura enganados – que terá sido a romanização do mundo antigo ou a francisação e anglicisação dos impérios francês e britânico.
Quiseram também as circunstâncias – na sua origem pouco recomendáveis – que a nossa língua europeia, em contacto com a africana escrava, se adoçasse, mais do que já é na sua versão caseira, para tomar esse ritmo aberto, sensual, indolente, do português do Brasil ou o tom nostálgico da de Cabo Verde.
A miragem imperial dissolveu-se há muito. Da nossa presença no mundo só a língua do velho recanto galaico-português ficou como elo essencial entre nós, como povo e como cultura, e as novas nações que do Brasil a Moçambique se falam e mutuamente se compreendem entre as demais... Uma língua não tem outro sujeito que aqueles que a falam, nela se falando. Ninguém é seu “proprietário”, pois ela não é objecto, mas cada falante é seu guardião, podia dizer-se a sua vestal, tão frágil coisa é, na perspectiva do tempo, a misteriosa chama de uma língua.
Mas como duvidar que a longa cadeia dos mais exemplares e ardentes dos seus guardiães, aqueles que tornaram sensível o que nela há de imponderável, de Fernão Lopes a Gil Vicente, de Camões a Vieira, de Castro Alves a Pessoa, de Machado de Assis a Guimarães Rosa, ou de Baltazar Lopes a José Craveirinha, se apague ou se estiole? Houve épocas de depressiva configuração em que não era possível pensar no futuro da nossa plural e una fala portuguesa, sem alguma melancolia.
Hoje, não temos motivos para imaginar que, em prazo humanamente concebível, o seu destino seja o dos famosos versos da Tabacaria de que o tempo apagará o traço e a memória. A pluralizada língua portuguesa tem o seu lugar entre as mais faladas no Mundo. Isso não basta para que retiremos dessa constatação empírica um contentamento, no fundo, sem substância. Se contentamento é permitido, só pode ser o que resulta de imaginar que esse amplo manto de uma língua comum, referente de culturas afins ou diversas, é, apesar ou por causa da sua variedade, aquele espaço ideal onde todos quantos os acasos da História aproximou, se comunicam e se reconhecem na sua particularidade partilhada. Não seria pequeno milagre num Mundo que sonha com a unidade sem alcançar outra coisa que o seu doloroso simulacro.'
'Eduardo Lourenço (São Pedro de Rio Seco, 1923) é um professor e filósofo português. Entre 1953 e 1965, foi leitor de Cultura Portuguesa na Alemanha e em França. Começou como maître assistant na Universidade de Nice, até que se tornou jubilado pela mesma, em 1988. Em 1989, assumiu funções como conselheiro cultural junto da Embaixada Portuguesa em Roma e, desde 1999, ocupa o cargo de administrador da Fundação Calouste Gulbenkian. Ganhou o Prémio Pessoa em 2011 e, da sua obra, destacam-se: Heterodoxia (1949); Nós e a Europa ou as Duas Razões (1988) e Os Militares e o Poder (2013).'
In Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/outros/antologia/a-chama-plural-/678 [consultado em 17-02-2020]
Postado por
Rogério Rocha
às
23:42
0
comentários


Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Marcadores:
Eduardo Lourenço,
filosofia,
filósofo,
língua portuguesa,
literatura,
português
quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020
domingo, 9 de fevereiro de 2020
Assinar:
Comentários (Atom)
Postagens populares
-
Essa lista poderia conter uma centena ou mais de nomes, mas seus personagens simbolizam o orgulho da negritude em tudo aquilo que contribu...
-
A ilha de São Luís é a capital do estado do Maranhão, localizada no Nordeste do Brasil. É a única capital de um Estado no Brasil fundada p...
-
Algumas curiosidades cercam a composição e a confecção da bandeira nacional. Muitas delas, certamente, boa parte de nós, bras...
-
Por Rogério Henrique Castro Rocha O dia de hoje, 28 de julho, comemorado como feriado estadual, demarca na história o dia em que, n...
-
A data do Dia do Trabalho (do Trabalhador ou Dia Internacional do Trabalhador) foi estabelecida no ano de 1889, como resultado da r...
-
Murilo Rubião (*1916 +1991) Desde o lançamento de sua primeira obra, chamada O ex-mágico , e que veio ao mundo no distante ano de 1947...
-
HISTÓRICO DO JULGAMENTO O então ministro Moreira Alves foi o relator do polêmico caso O julgamento do pedido de Habeas Corpu...
-
Historic Centre Street Praça Gonçalves Dias - Gonçalves Dias Square Vista parcial do Centro Histórico - Ponte do São Francisc...